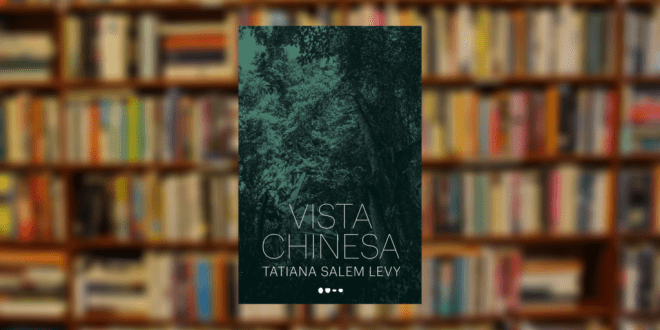Apesar de ter comprado Vista Chinesa (último livro de Tatiana Salem Levy) há semanas, demorei – relutei seria mais correto – um bocado a iniciar a leitura. A proximidade com a vítima do estupro no qual o romance é inspirado criou uma espécie de barreira, um pudor, o receio de estar invadindo – e de alguma forma, violentando – a intimidade da Joana Jabace
Joaninha foi minha aluna na Darcy Ribeiro, no começo dos anos 2000. Depois, fui reencontrá-la trabalhando na TV Globo, ela já uma talentosa diretora, eu como autor de novelas. Eu sabia que ela havia sido estuprada, mas nunca fiz qualquer comentário sobre o episódio. No projeto que estamos trabalhando atualmente, existe muita violência contra mulheres. Confesso que ficava constrangido imaginando como a Joana reagiria àquelas situações de violência, de agressão, de abuso. Mas como a própria Joana, corajosamente, autorizou a publicação do doloroso relato dessa violenta experiência e confiando na sensibilidade da Tatiana Salem Levy , venci os temores e decidi enfrentar o Vista Chinesa e todas as suas feridas e dores expostas.
Apesar de ser um romance relativamente curto, 90 poucas páginas, é um texto denso, sofrido, muitas vezes cru – característica da literatura de Tatiana, que consegue combinar com maestria uma prosa sensível e poética com uma crueza realista, brutal, sem anestesia.
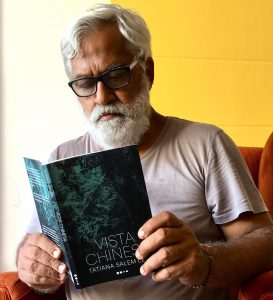 É o caso do relato do estupro, ou melhor dizendo, dos relatos, já que a narrativa fragmentada, narra o episódio sucessivas vezes, como estilhaços de uma memória ferida. Aliás, como em outros romances da autora, Vista Chinesa é também um romance sobre a memória: a memória da dor, a memória do corpo roubado, fraturado, rejeitado. Mas Vista Chinesa é também um romance de superação. É o relato sobre a reconquista do próprio corpo espoliado, mutilado, da redescoberta do prazer que fora sequestrado, aprisionado pela violência, pela vergonha e pelo trauma. O final do romance me remeteu ao belo desfecho de Os Mortos, de James Joyce. Assim como em Joyce a neve cai, impassível, sobre os vivos e os mortos, em Vista Chinesa é uma tempestade tropical que cai, arrastando tudo com sua força irresistível, as lembranças, os medos, as dores, a beleza e o horror dessa nossa vida. Belo e potente.
É o caso do relato do estupro, ou melhor dizendo, dos relatos, já que a narrativa fragmentada, narra o episódio sucessivas vezes, como estilhaços de uma memória ferida. Aliás, como em outros romances da autora, Vista Chinesa é também um romance sobre a memória: a memória da dor, a memória do corpo roubado, fraturado, rejeitado. Mas Vista Chinesa é também um romance de superação. É o relato sobre a reconquista do próprio corpo espoliado, mutilado, da redescoberta do prazer que fora sequestrado, aprisionado pela violência, pela vergonha e pelo trauma. O final do romance me remeteu ao belo desfecho de Os Mortos, de James Joyce. Assim como em Joyce a neve cai, impassível, sobre os vivos e os mortos, em Vista Chinesa é uma tempestade tropical que cai, arrastando tudo com sua força irresistível, as lembranças, os medos, as dores, a beleza e o horror dessa nossa vida. Belo e potente.
PAULO HALM
Formado em cinema pela UFF, é escritor, roteirista e diretor de cinema e tv. Como roteirista, destaca-se por, entre outros, escrever o roteiro de Pequeno Dicionário Amoroso, Amores Possiveis, Sonhos Roubados e Pequeno Dicionário Amoroso – 15 anos depois, todos de Sandra Werneck. A Maldição do Sampaku, Quem Matou Pixote?, Dois Perdidos Numa Noite Suja, Achados e Perdidos e Olh9os Azuis, todos de José Joffily. Guerra de Canudos, de e com Sergio Rezende e A casa da mãe Joana 1 e 2 e Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo, de Hugo Carvana. Participou também dos roteiros de Cazuza, O Tempo Não Para e Meu Nome Não É Johny. Escreveu também as comédias Jeitosinha e Ninguém Entra, Ninguém Sai. Como diretor, dirigiu diversos curtas e documentários, como PSW, uma Cronica Subversiva, Biu, Ou a Vida Real Não Tem Retake, Retrato do Artista com um 38 na Mão e O Resto é Silencio. Em 2010 estreou em Longa metragem com Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos. Em 2013 lançou o documentário de longa metragem Hijab, mulheres de véu. No momento, prepara seu novo longa de ficção, Pais e Filhos, que espera rodar após a pandemia. Em televisão, é autor dos grandes sucessos Totalmente Demais e Bom Sucesso (premio APTC de melhor novela de 2020 ), além de Malhações Sonhos. Trabalhou também na TV Escola, onde escreveu e dirigiu a série Trama do Olhar e o documentário Veredas, Caminhos da Educação.
SOBRE O LIVRO:
Vista Chinesa de Tatiana Salem Levy
SINOPSE
Estamos em 2014. Euforia no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro. Copa do Mundo prestes a acontecer, Olimpíadas de 2016 à vista. Autoestima da cidade nas alturas. Sensação de que o país havia encontrado um novo caminho. Júlia é sócia de um escritório de arquitetura que está planejando alguns projetos na futura Vila Olímpica. No dia de uma dessas reuniões com a prefeitura, Júlia sai para correr no Alto da Boa Vista, um enclave de Mata Atlântica no meio da grande cidade. A certa altura, alguém encosta um revólver na sua cabeça e a leva para dentro da mata, onde é estuprada.
Deixada largada no meio da floresta, ela se arrasta para casa, onde uma amiga lhe presta os primeiros socorros. O rosário de dor, sensação de imundície e “culpa” é descrito com crueza e qualidade literária poucas vezes vistas em nossa ficção. Assim como os percalços junto à polícia para tentar encontrar o criminoso numa sociedade em que basta ser pobre para parecer suspeito. Mas nem tudo é horror e escuridão. A história é narrada para os filhos da protagonista anos depois do terrível episódio. Os fatos retrocedem e avançam no tempo. Temos o início de namoro de Júlia, sua lua de mel numa praia paradisíaca, a gestação. São momentos em que habilmente a autora constrói outra visão do corpo e da sexualidade de Júlia como uma prova, para quem cometeu a violência e para si mesma, de que ela é ainda a dona da própria história.
 TATIANA SALEM LEVY
TATIANA SALEM LEVY
Publicado em 2007, A chave de casa, de Tatiana Salem Levy (1979, Lisboa, Portugal), venceu o Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Estreante e foi finalista do Jabuti de 2008. Na trama autobiográfica, a protagonista, neta de judeus da Turquia e filha de comunistas brasileiros, reconstrói as origens de sua família através de uma narrativa que combina elementos ficcionais e memórias. Tatiana Levy também é autora de A experiência do fora: Blanchot, Foucault e Deleuze, e seus contos foram publicados nas coletâneas Paralelos (2004) e em 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (2005).
TRECHO DO LIVRO
 Rede Sina Comunicação fora do padrão
Rede Sina Comunicação fora do padrão