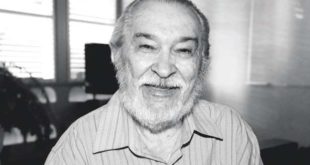(☼12/12/1924, em Atafona, Campos, RJ, † 05/06/2001 no Rio de Janeiro, RJ)
Luiz Alberto Sanz
Dezembro, em nossa enorme família cheia de sobrenomes diversos, é um mês que associa lembranças prazerosas com a dor da perda num único sentimento: Saudade. No dia primeiro, em 1996, faleceu Luiza; 90 anos antes, dia 07, nascera em Santa Maria da Boca do Monte seu irmão mais velho, o jornalista Barreto Leite Filho, saudado por figuras de destaque da vida gaúcha; em 1924, dia 12, vira a luz em Atafona, no Norte Fluminense, Maria Augusta Correia dos Santos, a mãe afetiva e sempre presente de todas as gerações que se seguiram; aos 18 de dezembro de 1933 nascera a matriarca rebelde Duddu Barreto Leite; a José Sanz, multifacetado arquivista de sombras, tradutor, especialista em Ficção científica e contador de histórias, coube o dia 21 em 1987 para morrer. Encerrando o mês, nasceu em 1962, no ramo dos Sanz, Azaury de Alencastro Graça Jr. que vai em frente, sempre com muita iniciativa. Estas histórias serão contadas, mas não hoje, porque, como diz Antonio Machado: no hay camino, se hace camino al andar.
Agora é tempo de falar de Maria Augusta, Mãe Maria, Iá, que acalentou em seus braços pelo menos três gerações de filhos que não pariu. Contava minha mãe Luiza que ao me ver recém-nascido, aquela mulher negra bela e esbelta, que só andava bem penteada e de unhas feitas – embora cozinhasse, limpasse, lavasse e passasse, além de ajudar a cuidar de minha irmã e meu irmão mais velhos enquanto a patroa se virava em no mínimo três empregos – exclamou: “Mas que menino mais feio!”. Pois a guerreira de ébano e o roliço e careca “barata descascada” se amaram pela vida toda e fui o preferido até que surgissem um outro branquela espaçoso e uma negrinha linda de morrer e espevitada a mais não poder, Mário Sergio Sanz de Oliveira e Jussara Araújo, a Sassá. Foi Mário Sergio, o Mario Oliveira das redes sociais, que passou a chamá-la de Iá. Sem nunca imaginar que, em iorubá, IYÁ é MÃE.
Minha avó, Dona Gonçalina Corrêa de Azevedo, aristocrata falida dos pampas, não era fácil. Mamãe dizia: “Não parava empregada lá em casa”. Então, quando Maria Augusta chegou para a entrevista de emprego, ou para começar a trabalhar, sei lá, Luiza olhou para seus cabelos e suas unhas longas e pintadas de vermelho e pensou: “Esta não dura uma semana”. Pois durou mais de 54 anos, até que Luiza morresse e ela fosse morar em Bangu com Delvira, Sassá e Lulu (Maria Luiza, em homenagem às duas), filha e netas desse coração grande cuja prole foi gerada por outras, mas criada por ela.
No percurso até sua morte, em 05 de junho de 2001, nossa Iyá nos mostrou um mundo que, talvez, nunca chegaríamos a conhecer sem ela, que morava no Morro da Formiga com seu marido, Hernandes dos Santos, trocador de ônibus e malandro de fé nas horas vagas. Ela abriu o barraco para nos receber em muitas ocasiões, quando Luiza tinha compromissos profissionais nos fins-de-semana e ela precisava gozar das folgas cuidando de nós e de Hernandes, que adoecera. Muitas vezes, um ou dois de nós ficávamos na casa da Tia Nenita e da Vó Isaura, irmã e mãe do Zé Sanz, meu pai, que moravam na Rua Uruguay, pertinho do Morro. Na vila pegada, outra tia, Enilda, avó da nossa querida Claudia Vals, ativa defensora dos gatos e inimiga dos fascistas nas redes sociais.
Em meio a minhas vagas memórias, lembro das idas a Ricardo de Albuquerque e Oswaldo Cruz, onde a tia que a criou e a seus irmãos Adahil, Batista, Didi e mais um cujo nome já não lembro. Acho que era o mais velho; pelo menos, como Adahil, o mais circunspecto. Outro dia ainda ficamos, com Sandra, minha irmã, recordando nossas aventuras pelos subúrbios que, nos anos 40/50 ainda não eram superpopulosos. Tia Antônia morou em duas casas de barro que pareciam pequenos sítios, com árvores e horta. Pelo menos é o que minha imaginação reconstrói. Mas concordamos em duas coisas: era longe e, em um dos “sítios”, havia uma mangueira na entrada do terreno em que eu e Sergio subíamos. Uma realidade de pobreza digna, afetuosa, de gente trabalhadora que nos amava como de sua família. Nessa época, só conhecemos outra roça em Vera Cruz, para onde Dona Henriette Amado nos convidou a passar uns dias. Mas era outra realidade. Um sítio com diferentes criações, maior extensão de terra, um lago para os patos e empregados que cuidavam de tudo, até de nós, para que não fizéssemos alguma sandice.
Mãe Maria tinha que cuidar de nós três nessas excursões à pobreza, o que não era fácil. De uma feita, quando íamos embarcar no trem da Central, no começo da linha, eu fiquei para trás e ela teve que me buscar. O Sergio já tinha embarcado, a porta se fechou e lá ficamos. Mãe Maria, Sandra e eu. Ela quase enlouqueceu. Mas Sergio, como a Sandra diz, era “danado”, cheio de iniciativa. Quem o conhece sabe disso. Tínhamos a esperança de que ele saltasse na próxima estação, Mangueira, a Estação Primeira, e esperasse para embarcar no mesmo vagão que a gente. Nada. A cada parada ela ficava mais angustiada. Decidiu ir até à casa de Tia Antônia e deixar a gente lá, para sair em busca do guri. Surpresa, alívio! Sergio já tinha chegado, por conta própria. Lembrava o caminho e não perdera a confiança. Mas as histórias de Sergio serão contadas no momento certo.
Mãe Maria não nos revelou apenas a vida nos morros e na roça, na escola de samba e nas festas juninas populares. Nos levava à feira, aos açougues e quitandas, a leiteria da CCPL do Catete, que pertencia ao goleiro Castilho do Fluminense. Nós conhecíamos leiteiros, padeiros, jornaleiros, sapateiros-remendões, cortávamos cabelo no Bené, cuja barbearia ficava na Marquês de Abrantes, em uma das subidas para o Morro Azul. Tudo sob a supervisão da amada Mãe Maria, que, aos poucos foi deixando de ser esbelta, sobretudo depois que seu querido Hernandes morreu. Deixou de ir à gafieira, aos ensaios da escola de samba do Morro da Formiga e passou a dedicar-se inteiramente a nossa família, mudando-se para nosso apartamento no Edifício dos Bancários da Rua Senador Vergueiro 200, onde já tinha um quarto.
Ela cozinhava como ninguém, embora não fosse banqueteira fina como Adahil, que trabalhava para um amigo da família, o Dr. Edmar Terra Blois, que recebia diplomatas e políticos que se maravilhavam com o refinamento dos pratos criados pela irmã de Mãe Maria, que permaneceu delgada até morrer. Nossa Yiá também tinha seus refinamentos, sobretudo no modo de fazer. Aprendeu alguns pratos com Dona Gonçalina, como uma gelatina que tinha duas cores e uma rosa branca natural no meio; uma rosa de massa folhada com coquetel de camarão no alto; minha sobremesa preferida, que nunca mais comi: Rei Alberto, creme de ameixa e gelatina, que o menino guloso achava ter o nome em sua homenagem. No entanto, os pratos preferidos de todos, afamados entre os que frequentaram o apartamento de Luiza Barreto Leite, eram o prodigioso picadinho de carne cortado à faca em pedaços minúsculos, com azeitona e ovo cozido, feito em quantidade para dezenas de moradores e convidados; o strogonoff de carne com molho de champignons que deu até briga entre dois netos ávidos pelas últimas porções e a carne assada ao molho ferrugem cuja receita herdamos Sandra, minha mulher Didi, eu e Sergio. Mas, confesso, jamais consegui igualar as de minha vida toda com ela. Didi e Sandra chegaram muito perto.
O mais incrível é que isso tudo, ao mesmo tempo, era servido um domingo sim e o outro também, acompanhado de arroz branco, salada de maionese e farofa divinos. E as sobremesas? Além do Rei Alberto, havia o Quindão, as queijadinhas, o pudim de claras, o pudim de leite. Coisas comuns? Não com aquele gosto. Perguntem pra família, pra Graciela Rodrigues, pro Idibal Pivetta, pra Carla Silva, pra Léa Maria Aarão Reis, pro José Ribamar Neves, pra Arlette Neves, pra Fernanda Gurjan e pra Mavia Zettel.
Mas, para mim, a pièce de resistence de nossa existência está nos longos momentos em que passei ao seu lado, ouvindo a Rádio Nacional ou a Mayrink Veiga, que ela me ensinou a amar, torcendo pelo América, que acabei traindo quando entrei para a tropa de lobinhos do Fluminense e a aprender natação por lá e não resisti à pressão para virar-a-casaca; lendo e anotando receitas para ela e, sobretudo, quando me ajudava a fazer os deveres escolares, ensinando-me a raciocinar, usando a lógica, discutindo palavras e construções dos textos que eu escrevia. Ela, que nasceu, cresceu e morreu analfabeta foi sem dúvida, a pessoa mais sábia que conheci. E me ensinou pelo exemplo o que é respeito e consciência étnica e de classe.
Sua dignidade impressionou até o sargento do grupo de busca da 2ª Seção do I Exército, (mais tarde se tornaria o núcleo principal do DOI-CODI no Rio), que foi revistar o apartamento de Luiza à minha procura. Negro como ela, recebeu ordem do capitão branco e arrogante para revolver seu quarto em busca de documentos e outras provas. Ele olhou para nossa Iyá e lhe disse, em voz baixa: “fique calma, vou demorar um pouco aqui e se alguém lhe perguntar, diga que revistei o quarto”. Alguns minutos depois, reportou a seu comandante que não tinha achado nada. Na verdade, todos os documentos comprometedores da casa estavam lá. Levaram alguns livros da estante da sala. O que mais lhes chamou a atenção foi um sobre a Revolução Chinesa escrito pelo general fascista Chiang Kai-shek, Presidente da China Nacionalista. E prenderam meu irmão, para servir de refém, na esperança de que eu me entregasse.
Luiza contava que Mãe Maria não perdeu a tranquilidade em qualquer momento, mantendo as mesmas fleuma e sisudez que demonstra na maior parte das fotos em que aparece. Sãos raros os momentos em que permitia que lhe registrassem um sorriso carinhoso. Seu carinho trazia um tempero de “respeito é bom e eu gosto”. Acho que só o marido de Sandra, Tião, e seu filho Mario Sergio se permitiam fazer brincadeiras com ela. Para este último, nos últimos anos, ela preparava o picadinho famoso com batatas chips (outra especialidade) excepcionalmente crocantes e servia escondido. Já não aguentava picar carne para um batalhão. Isto provocava motins indignados, com ameaças à integridade do rapazote.
O intelectual que me tornei devo sobretudo a essas duas mulheres, a analfabeta, negra, favelada, culta e elegante Maria Augusta Correia dos Santos, Mãe Maria, Iá ou Iyá, e a letrada, branca, descendente da aristocracia falida dos pampas, culta e elegantérrima Luiza Barreto Leite. Nos últimos anos de vida de Luiza fizemos no seu apartamento uma homenagem aos 50 anos que passaram juntas, cada uma e seu ofício e maneira de ser, educando gerações. Foi emocionante.
Mãe Maria, no que seria seu aniversário de número 94, declaro, mais uma

vez, meu amor edipiano e agradeço tudo que você fez por mim e por nós, abrindo mão de muitas coisas e transformando a nossa vida, de todos nós, na sua vida. E transformando-nos no processo.
Evoé!!!!!
 Rede Sina Comunicação fora do padrão
Rede Sina Comunicação fora do padrão