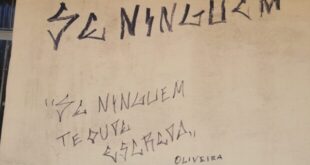Domingo de sol, início de manhã. Aqui e acolá, naquele céu claro de junho, umas nuvens desgarradas de chuva insistem em prometer suas águas. Tomando o rumo do Recife Antigo, eu assumo por conta e risco o banho de chuva no caminho. Na barra circular, eu pedalo em direção ao Recife Antigo, velho conhecido meu em suas estradas. Como não lembrar aqui dos versos de Mauro Mota em seu “Domingo no Recife”. Onde estará Suzana, agora? Onde estará sua bicicleta? Que fim levou? Quem sabe não esteja agora, onde sempre esteve, sob o olhar do poeta preso em seus versos, fugindo nas ioles, na cor da tarde, no voo dos passarinhos. Fugindo, quem sabe, no prosaico daquela manhã pontuada de nuvens cinzas, do lirismo funcionário público da centenária Rural. Parto da praça do horto a percorrer de bicicleta as conhecidas estradas. As mesmas estradas percorridas de não há muito tempo; estradas de minha juventude, estradas de minha infância.
Ah Recife, o que dizer de tuas estradas? Dizer quem sabe, daquela estrada presente na etimologia moçárabe de seu nome, ‘Ar racif’, a ditar num só tempo tuas pedras e teus caminhos. Ou ainda dos caminhos de pedra, da educação pela pedra, que duramente aprendi ainda adolescente no Marista através da lição de um de seus antigos alunos. Caminho de muralhas a proteger do mar aberto suas bravas ondas, e assim domesticá-las em piscinas de água morna, que tive a alegria de desfrutar na praia de Boa Viagem lá pelos idos de 70, 80 do século passado. Recife do istmo da gente da terra, da raia miúda, do povo gentílico das palhoças, quase malocas, das primeiras gerações de brasileiros aqui plantados e por mestiçagem desterrados das aristocráticas colinas da barroca Olinda. Não o Recife burguês dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, das revoluções libertárias, mas aquele que é simplesmente ponte.
Ponte a ligar arrabaldes que costeiam seu rio das capivaras. Capiberibe. Capibaribe. Agora o não tão longe não mais sertãozinho de Caxangá: Várzea, Dois Irmãos, Apipucos, Monteiro, Casa Forte… A bicicleta carrega-me de evocações. No início do caminho, poucas mudanças: a ‘mão inglesa’ sob o viaduto da BR 101 e as ruinas do colégio Conceição Marista. No mais, o mesmo: o Senzala no sopé da colina do Gilberto Freyre e as casas perfiladas a subir em direção à capela de Apipucos. Porta D’Água, mais além Monteiro. Alto Santa Isabel, Casa Amarela, mais além Morro da Conceição. A bicicleta corta caminho por dentro pela Estrada do Encanamento. Curioso o percurso dessas estradas: Porta D’Água, Estrada do Encanamento! Eu sigo o curso.
Na Estrada do Encanamento, onde está a casa do menino Paulo Freire? Onde havia a casa agora um edifício, e nele placas marcam o lugar da infância daquele que, como bom pernambucano, cometeu na sua juventude poemas. Clube Alemão, Parnamirim, Instituto Jung. Parque da Jaqueira, ao lado vejo o rio que nos acompanha. Em seguida a estação maxambomba, o palácio do capitão inglês, O colégio Damas e sua capela neogótica, o colégio Marista que ainda resta: São Luis. O Museu do Estado e a exposição de João Câmara. Pego a contramão, sigo em direção a Agamenon, rumo ao cemitério de Santo Amaro. Contorno a Boa Vista, agora resta-nos a Aurora.
Recife. Ponte Princesa Isabel, Campos das Princesas, Teatro Santa Isabel, Palácio da Justiça. Na praça a estátua do príncipe de Orange e o baobá do Pequeno Príncipe. E eu me pergunto a razão de não se ter em Recife nem uma viela com o nome de imperador Pedro I. Talvez pelo fato de Recife acolher príncipes, sejam flamengos ou de asteróides, mas jamais ditadores. Pernambuco jamais esqueceu a mão que empunhou a espada que mutilou seu mapa. Mais além, os restos mortais do ‘comunista’ Abreu e Lima, que lutou ao lado do libertador Simon Bolivar, repousa no cemitério dos ingleses como um testemunho para quem passa pela avenida do revolucionário Cruz Cabugá: aqui não se cria tiranos. Na Aurora, em frente à casa Joaquim Nabuco, uma escultura nos diz que tortura nunca mais. Lá adiante a rua da União, Rua do Sol, o Recife de arroz de água e sal de Bandeira. Sem mais nada além de sua infância.
Da ponte Buarque de Macedo, no lado oposto das colinas de Olinda, por força do poder econômico, observa-se um navio de pedra aporta no cais José Estelita. A menina passa correndo em sua bicicleta, será Suzana? Logo em frente o Marco Zero. Recife Antigo. De um lado a Sinagoga, do outro a Madre Deus. Metade roubado do mar, metade ao rio, em tudo a imaginação. O istmo torna-se arrecife, muralha de pedra, caminho das águas, molhe, cais; de onde se vê o mundo e a fálica torre de Brennand.

Ribeiro Halves, nome artístico de Eduardo Henrique Alves da Silva, nasceu na cidade de Recife (Pernambuco/Brasil) no ano de 1971. Desde 1999, o poeta Ribeiro Halves vem desenvolvendo um trabalho caligráfico e de confecção de “neo-iluminuras” a partir de seus poemas e de outros textos. Em 2009 publicou seu primeiro livro de poesia, CLARO GRIFO-Alguma Proesia e outros Signos Mestiços, editado pela UFRPE; e em 2011 foi lançado pela Edições Moinhos de Vento uma série de poemas seus com inspiração celta: NOVE NOVOS TRYSKELES. Atualmente mora em Santa Maria (RS) onde exerce o ministério ordenado (reverendo) na Catedral
Anglicana do Mediador.
 Rede Sina Comunicação fora do padrão
Rede Sina Comunicação fora do padrão